
O Brasil é um país onde se demora a compreender o contexto histórico-político no qual se vê inserido. É exemplo disso o fato de ter adotado, através da Constituição de 1891, um federalismo dual [1], caracterizado pela grande descentralização, algo próximo de uma soberania dos Estados-membros, a partir do modelo dos Estados Unidos, só que com mais de um século de atraso, considerando que a Constituição norte-americana data de 1787.
Adotado o federalismo, para migrar do dito formato dual, desconsiderando as Constituições total ou parcialmente afetadas por alguma ditadura (porque os regimes autoritários suprimem a lógica das classificações), somente podemos considerar a adoção plena do federalismo cooperativista [2] a partir de 1988, ou seja, com o retardo de sete décadas, se tivermos como referências Constituições como a mexicana de 1917 ou a alemã de 1919. Na Constituição Brasileira atual, a cooperação entre os entes políticos tem dois fluxos principais, sendo o primeiro na elaboração das normas e o outro na execução de políticas delas decorrentes. Para a primeira atribuição, define-se que o poder central – a União – edita as normas gerais, ou seja, as que traçam o perfil do direito a ser implantado, e que os outros entes públicos – Estados, Distrito Federal e Municípios – criam as normas específicas para a sua realidade, as quais costumam ir pouco além de especificações operacionais [3].
Para a competência administrativa, que é a de executar a cooperação, não há regras claras sobre o dever de cada ente político, uma vez que a Lei Maior, no Art. 23, parágrafo único, limita-se a prescrever que “leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional”. A este respeito, até agora, foi editada unicamente a Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011, que “fixa normas […] para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora”.
Note-se que, no padrão em apreço, só foram criadas, até o momento, normas de cooperação para a matéria ambiental, porém, para as culturais, em termos normativos, se foi mais adiante, criando-se o único sistema de políticas públicas com detalhamentos de princípios e de estrutura orgânica consignados na própria Constituição, o Sistema Nacional de Cultura, o que, aparentando ser uma vantagem, pode mostrar-se como um equívoco, dado que o SNC, supostamente o mais dinâmico de todos os sistemas, já surge institucionalmente pré-moldado por normas de hierarquia constitucional [4].
Mas o grande problema não é esse: reside na operacionalização de sistemas preexistentes ao SNC, como o sistema de patrimônio cultural, que opera a partir de anacronismos, como o de vincular ações a supostos interesses específicos de cada ente da federação. Para entender tal defasagem, um exemplo (escoimado de personagens reais) que se repete Brasil afora, pode ser esclarecedor: um determinado bem cultural, estando ameaçado de perecimento, provoca a abertura do processo de tombamento no âmbito municipal. Por questões diversas, o Município resolve não tombar o bem; indignados, os proponentes recorrem ao Estado e à União pedindo a mesma proteção. Estes entes, quase em coro, dizem que reconhecem o valor cultural, porém, o bem não é de seu interesse específico, mas apenas da esfera geograficamente mais restrita.
Tudo parece normal, mas aqui serão evidenciados os anacronismos: desde 1988, não se trata mais de patrimônio histórico e artístico nacional, o que justificava interesses específicos do ente representativo da nação ou de entes subnacionais. Trata-se, agora, de patrimônio cultural brasileiro, que deve ser protegido, pura e simplesmente, por isso.
Reconhecer que um bem tem valor cultural e deixá-lo perecer é algo que evoca a lembrança do gesto de Pôncio Pilatos, ao lavar as mãos diante de um inocente prestes a ser condenado, mesmo tendo o poder de evitar a injustiça. O problema, porém, não pode ser resolvido por referências religiosas, mas jurídicas, o que faz entrar em cena o princípio da subsidiariedade, que é basilar nas organizações estatais multinível (federalismos e outras organizações estatais complexas), a exemplo da União Europeia que, no âmbito do Tratado de Lisboa, considerado a sua Constituição, especifica ser tal princípio cabível “nos domínios que não sejam da sua competência exclusiva, a União intervém apenas se e na medida em que os objetivos da ação considerada não possam ser suficientemente alcançados pelos Estados-Membros, tanto ao nível central como ao nível regional e local, podendo, contudo, devido às dimensões ou aos efeitos da ação considerada, ser mais bem alcançados ao nível da União” [5].
Na mais profunda obra brasileira sobre o tema, Allan Carlos Moreira Magalhães, sintetiza a problemática observando que “o princípio da subsidiariedade estabelece uma preferência pelas pessoas e coletividades menores para realizar seus próprios interesses, considerando antijurídica a supressão do direito de elas agirem por suas próprias forças. Mas, se as coletividades menores se mostrarem incapazes de alcançarem sozinhas seus interesses, é dever das coletividades maiores intervirem naquelas, mas apenas para auxiliá-las a alcançar o bem comum, na medida e proporção necessárias para atingir tais objetivos, e pelos meios que menos afetem a sua autonomia, de forma que as tensões entre autonomia e intervenção sejam harmonizadas” [6].
Vê-se assim que o setor cultural, mais que qualquer outro, deve se disponibilizar a reflexões profundas, para muito além das resultantes de jargões, fórmulas petrificadas e palavras de ordem, pois, se ele, o setor da vanguarda do pensamento, se deixar vitimar por anacronismos injustificáveis, isso promove um efeito cascata, cujo resultado é o retrocesso ou, quando menos, a estagnação do país por décadas e até por séculos.
Humberto Cunha Filho, Professor de Direitos Culturais nos programas de graduação, mestrado e doutorado da Universidade de Fortaleza (Unifor), Presidente de Honra do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais (IBDCult), Autor, dentre outros, dos livros “Teoria dos Direitos Culturais” (Edições SESC-SP) e “(F)atos, Política(s) e Direitos Culturais” (Dialética – SP)
Notas
[1] BALEEIRO, Aliomar. 1891 ─ 3. ed. ─ Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2012. 103 p. ─ (Coleção Constituições brasileiras; v. 2)
[2] BERCOVICI, Gilberto. Dilemas do Estado Federal Brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004.
[3] BERNARDES, Wilba. Federação e Federalismo: uma análise com base na superação do estado nacional e no contexto do Estado democrático de direito. Belo Horizonte: Del Rey, 2010.
[4] CUNHA Filho, Francisco Humberto: Federalismo Cultural e Sistema Nacional de Cultura: Contribuição ao Debate. Fortaleza: Edições UFC, 2010.
[5] UNIÃO EUROPEIA. Jornal Oficial da União Europeia. Tratado de Lisboa. Consulta em: 9 de agosto 2023. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL
[6]MAGALHÃES, Allan Carlos Moreira. Patrimônio Cultural, Democracia e Federalismo. Editora Dialética. Edição do Kindle.
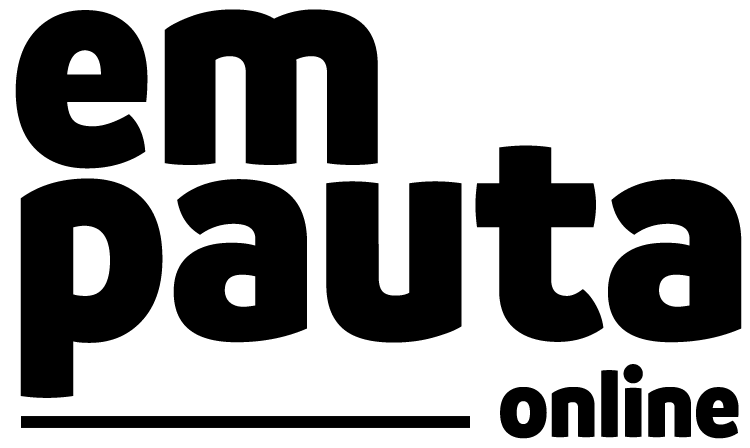











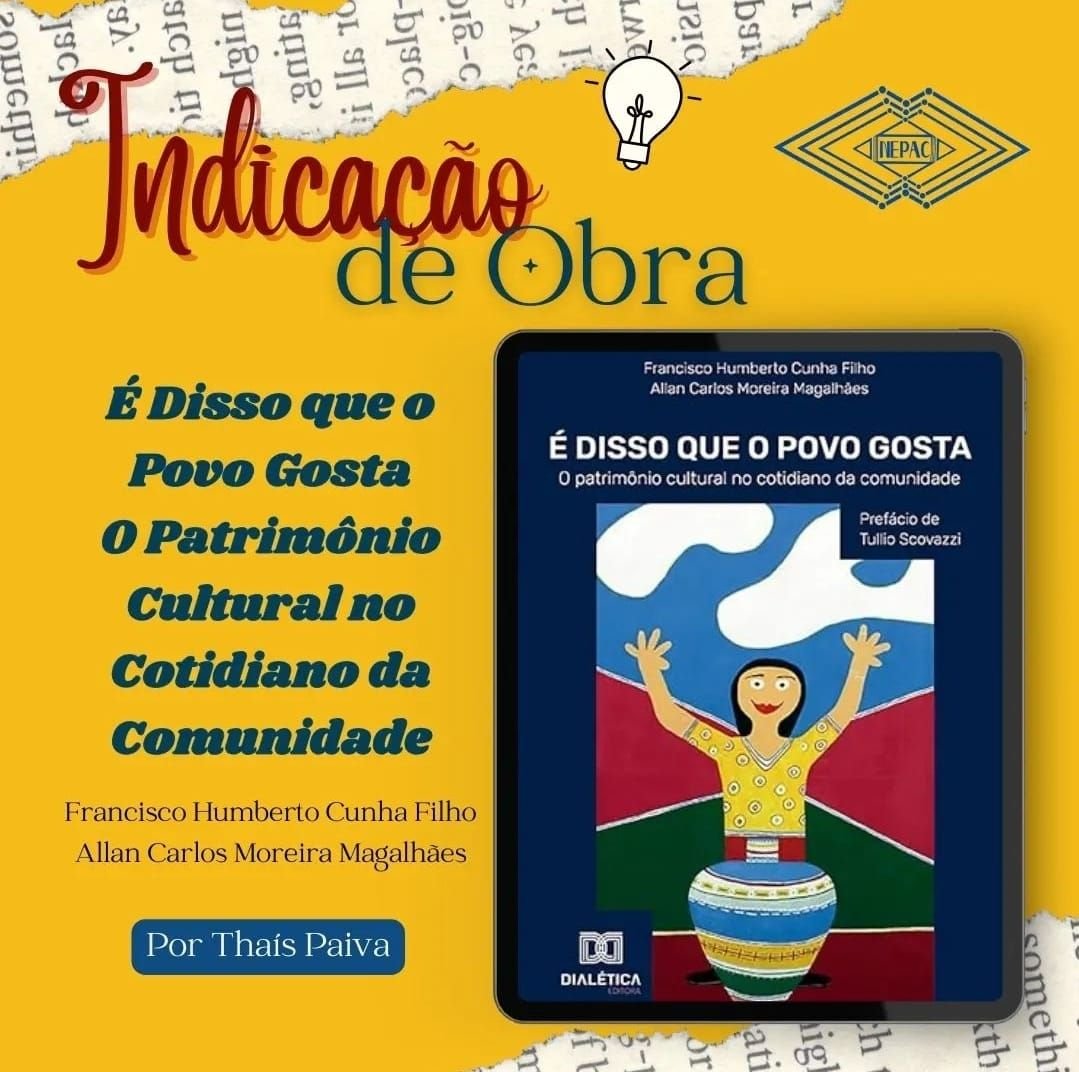
Envie seu comentário